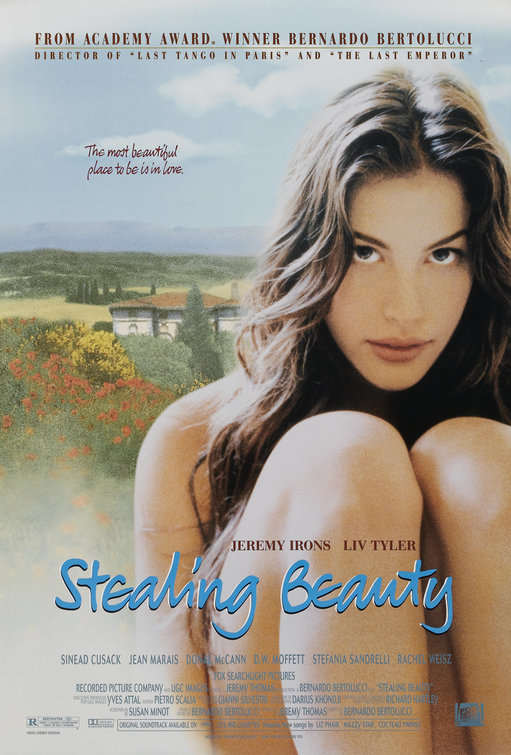Foi uma imersão total, portanto, num universo que por sua dualidade pode deixar um homem encabulado. É um universo atraentemente fictício na parte em que Uma Thurman é uma assassina de beleza desconcertante, de talentos incomparáveis e de uma história de vingança que nos comove no primeiro segundo em que descobrimos, afinal, que história é essa. Mas é um universo um pouco triste no seu realismo - no seu realismo de pés horríveis sendo mostrados sem qualquer esforço de se proteger a imagem do contrário perfeita que todos nós teríamos de Uma Thurman. Estou dizendo isso porque mesmo uma pessoa sem qualquer fetiche por pés femininos, porém dotada de um senso estético mínimo, não deixaria de notar como os pés dela se desarmonizam com o resto de suas belas formas. Contemplá-los em isolado chega a ser um pouco desagradável. Os dedos que ali se abrigam parecem tortos demais para a criatura que os encima, do mesmo jeito que as protuberâncias dos ossos articuladores, não como suaves dobras por cima das quais se poderia sentir inclinado a pousar as mãos carinhosamente, lembram os contornos de uma bruxa velha. A cena dela no banco de trás da camionete amarela do Buck, os pés ao fundo, como duas raízes deformadas brotando da terra, desafia qualquer admiração.
Fora isso, evidentemente, são horas de diversão e de estímulos visuais.
É bem verdade que um controle meu, absoluto, monarquicamente absoluto, isto é, sobre como filmes deveriam ser feitos, é bem verdade que um controle assim resultaria em filmes um pouco diferentes. Haveria, fosse esse o caso, reduções significativas na extensão das cenas em que as pessoas ficam só apontando os braços umas para as outras e os movimentos dos seus corpos fazem um barulho cortante no ar. Uma decisão minha, é claro, e uma decisão que nem todos os grandes diretores do cinema mundial precisariam necessariamente seguir. Aliás, em se tratando de filmes sobre pessoas com unfinished business, talvez nem fosse a mais apropriada decisão. Unfinished business a serem resolvidos com inimigos do passado, que é o tema central algumas vezes repetido nesse filme, talvez seja uma circunstância mais bem desenvolvida com uma espécie de parcimônia; principalmente, eu acho, se você passou alguns anos em coma antes de ter a chance de rastrear pelo mundo as pessoas que invadiram o ensaio do seu casamento e metralharam quem quer que estivesse no local. Quer dizer, a ira e o desejo de vingança não reclamam sempre pessoas sobressaltadas que saiam pulando e esmurrando o adversário na primeira chance. É possível, nesse ponto, haver-se com uma razoável dose de comedimento oriental. A ira e o desejo de vingança meio que podem se acumular progressivamente nas veias da pessoa, mais e mais, sempre mais, até o limite humano da força, tudo isso enquanto a pessoa mesma está lá, paradinha, só apontando os seus dedos na direção do inimigo, na posição simuladora de algum animal encontradiço nas florestas asiáticas.
Mas saio dessas pequenas críticas para bajular. Os personagens secundários que mais me agradaram, o tipo de personagem do qual você se esquece completamente depois que viu o filme pela primeira vez e que só entrará nas suas memórias quando você consegue assistir novamente, foram o do xerife e do seu filho nº 1. São os mesmos, eu acho, que aparecem no Death Proof, o que qualquer conhecedor mais profundo da obra do diretor poderia confirmar. Eles são bons, de qualquer maneira, a ponto de merecerem a dupla aparição. Eu fiquei com vontade de me mudar para o Texas só para ver se eu consigo aprender a cuspir com aquela displicência genuína, rústica e técnica.
Notei um besteirinha engraçada na cena em que a Beatrix dizima a gangue dos 88 Loucos. Dificilmente terá sido um erro de direção ou algo que não seja a mais elementar referência aos clássicos de kung fu que inspiraram o Tarantino. O que eu notei, em todo caso, é que um sujeito, supostamente atingido por uma espadada da Beatrix, se bate de dor numa forma bem curiosa. Logo depois que a Beatrix mata um chefão (o chefão que cai numa piscina toda cheia de sangue), de cima do parapeito ela exorta aqueles que ainda estão vivos a saírem do recinto, deixando para trás somente a vergonha da sua derrota e os membros que por casualidade lhe tivessem sido decepados. Segundo todos os conhecidos preceitos de direito natural, sugere ela, esses membros agora lhe pertenciam, na qualidade de guerreira. Voltando ao assunto, um desses soldados sobreviventes, um dos poucos de pé, fica cambaleando às tontas, com as mãos na cabeça. Menos como alguém condoído que sobreviveu a um combate extenuante, o sujeito fica lá, encenando uma pequena brincadeira de cabra cega, sozinho, dando uns chutinhos na cadeira. Dir-se-ia que estava completa e inimputavelmente bêbado, se um pequeno tipo de riso quase imperceptível não estivesse saindo da sua boca e denunciasse que ele não estava fora de controle...
Uso até de reticências para mostrar como achei a coisa estranha e uso até da expressão "eu perguntaria isso numa entrevista" para mostrar como eu fiquei com vontade de perguntar isso numa entrevista. Acho que não aconteceu por acaso ou por má assessoria do diretor em artes marciais. Isso tudo parece ter um sentido próprio. Terá sido esse, eu perguntaria na entrevista, o momento da grande crítica do diretor às nações pusilânimes e acovardadas, que se furtam a entrar nos combates que realmente importam ser combatidos e que, quando confrontadas por seus inimigos, mal percebem de onde estão vindo os ataques? Aos povos que se curvam perante aqueles contra quem deveriam pegar em armas, e que, sob ataque, não reagem senão com uns patéticos golpes no ar, que nada acertam e que em nada debilitam o agressor? Ora, não terminarei eu um post com uma pergunta?